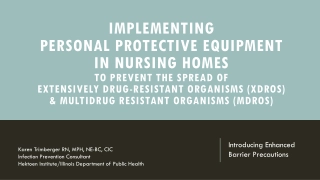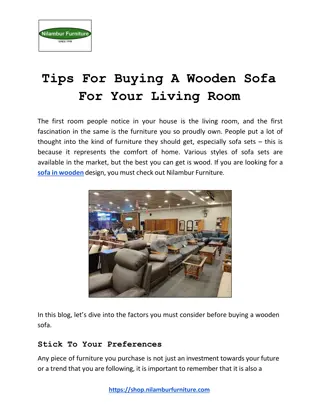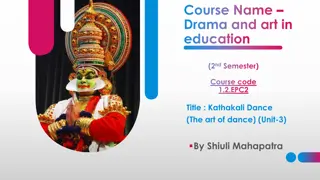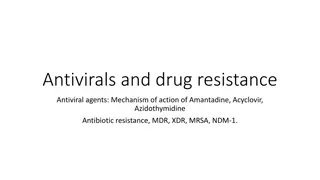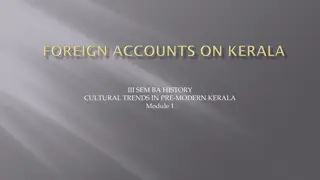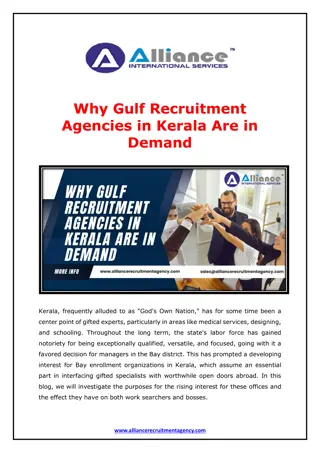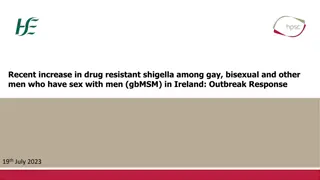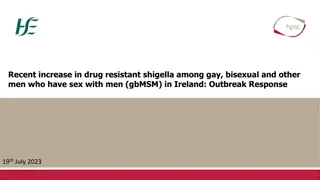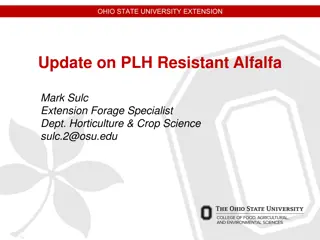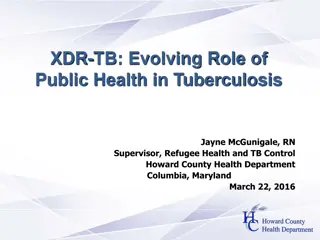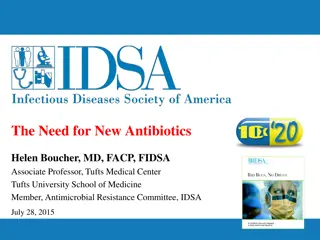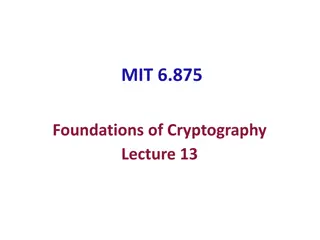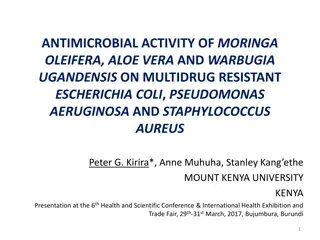Decentralized Management of Drug-Resistant TB: Kerala Experiences
Kerala has implemented a decentralized model for managing Multi-Drug Resistant Tuberculosis, aiming to preserve benefits and overcome drawbacks of centralized models. Steps include decentralization of pre-treatment lab investigations, screening for adverse drug reactions, and more. This innovative approach enhances patient care, reduces delays, and minimizes travel burden for patients and their families.
Download Presentation

Please find below an Image/Link to download the presentation.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.
You are allowed to download the files provided on this website for personal or commercial use, subject to the condition that they are used lawfully. All files are the property of their respective owners.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.
E N D
Presentation Transcript
EDUCAO INFANTIL Profa Dra B rbara Popp 1
Obras BARBOSA, Maria Carmen Silveira; HORN, Maria da Gra a Souza. Projetos pedag gicos na Educa o Infantil. Porto Alegre: Artmed, 2008. BENTO, Maria Aparecida (org) Educa o infantil, igualdade racial e diversidade: aspectos pol ticos, jur dicos, conceituais. Centro de Estudos das Rela es de Trabalho e Desigualdades. CEERT, 2011. Dispon vel Internet 220 p. FALK, J. Educar os tr s primeiros anos: a experi ncia de Loczy. Araraquara: Junqueira e Marin Editora, 2004. 2
Obras FOCHI, Paulo. Afinal, o que os beb s fazem no ber rio?: comunica o, autonomia e saber-fazer de beb s em um contexto de vida coletiva. Porto Alegre: Penso, 2015. OSTETTO, Luciana Esmeralda (Org.). Registros na Educa o Infantil: pesquisa e pr tica pedag gica. Campinas, SP: Papirus, 2017. STACCIOLI, Gianfranco. Di rio do acolhimento na escola da inf ncia. Campinas, SP: Autores Associados, 2013. 3
AFINAL, O QUE OS BEBS FAZEM NO BER RIO? Paulo Fochi 4
Biografia do autor Paulo Fochi pedagogo, especialista em Educa o Infantil (Unisinos), mestre em Estudos sobre Inf ncia (UFRGS) e doutorando em Did tica e Forma o de Professores (USP). Foi professor de E.I. por mais de 10 anos e atualmente coordenador da Especializa o em Educa o Infantil, da Unisinos. 5
Breve resumo da obra protagonizam esta obra, mostrando como s o indiv duos de in meras compet ncias e capazes de interagir e aprender desde o nascimento. Aponta caminhos metodol gicos por meio de viv ncia pr tica e fundamentada nas ideias dos mais importantes te ricos da Educa o infantil contempor nea. Possui cap tulo de apresenta o de Maria da Gra a Souza Horn e Maria Carmen Silveira Barbosa. O livro narra a viv ncia do universo de quatro beb s que 6
Mudana na forma como se v o conhecimento Da metade do s culo XX para c , a forma com se percebia o conhecimento linear, determinado, previs vel cede lugar a uma dimens o mais complexa e que est em constante movimento. O autor baseia-se na abordagem da documenta o pedag gica, uma experi ncia pedag gica italiana. Os professores e alunos deixam de ser tratados como simples objetos de estudo e passam a assumir uma posi o autoral no processo. As ideias de Malaguzzi e Fortinati: observa o, registro e progettazione s o base para a abordagem da documenta o pedag gica, auxiliando-o para a constru o da metodologia de estudo apresentado neste livro. 7
Progettazione utilizado em oposi o a programmazione, que implica curr culos, programas, est gios e outros aspectos pr -definidos. O conceito de progetazzione representa, assim, uma abordagem mais global e flex vel, na qual as hip teses iniciais s o elaboradas acerca do trabalho em sala [...] e est o sujeitas a modifica es e altera es de rumo no curso do processo de andamento do trabalho. 8
Ao de comunicar Dois beb s conversando... Importante criar um ambiente favor vel. Neste caso, ambos estavam no ch o. Observou-se, nesta conversa, toques e movimentos com as m os, express es faciais, sorrisos, balbucios, entre outros, que significam as palavras desta conversa. Da troca de olhares, balbucios, poss vel dizer que est o se apropriando da linguagem e que, segundo Bruner, os beb s s o poliglotas . Estas intera es conferem o car ter coletivo s escolas de Ed. Infantil, pois sob a presen a do adulto e junto crian a, constr i-se um modo de ser e estar no mundo. E este j o grande conte do pedag gico de um ber rio em contextos de vida coletiva. 9
Ao autnoma Explora o do espa o e dos objetos por um beb de 13 meses: A constru o da a o aut noma da crian a est diretamente associada com a dimens o da liberdade que ela tem, seja por optar por esse ou aquele material, seja por se ajustar nesta ou naquela postura. Gra as a esse fator, nomeado por Pikler de movimentolivre , que a crian a pode desenvolver o gosto pela atividade aut noma . atrav s da atividade aut noma que as crian as podem acumular experi ncias desenvolvimento motor harmonioso e estabelecem as bases de um bom desenvolvimento intelectual, gra as experimenta o das situa es. que favorecem o 10
Ao autnoma Ap s algum tempo passou a brincar com um garfo de pl stico, fazendo contato visual com o autor, demonstrando saber da presen a de um adulto e buscando um apoio nele. Neste momento, nota-se a import ncia sobre os modos de interven o do adulto, visto que: Ao intervir diretamente, pode interromper a atividade e desviar o interesse da crian a. Ao anunciar resultados esperados sobre a atividade, pode impedir que ela conclua algo por conta pr pria e crie o pr ximo marco a ser alcan ado. Ao colocar a crian a numa posi o que ela n o tem controle, pode imobiliz -la. 11
Ao de saber-fazer Beb de 14 meses em brincar heur stico: A a o espont nea da crian a potencializada, podendo descobrir sobre o mundo por meio da a o, das trocas, das interpreta es e das experi ncias. O brincar heur stico pode contribuir para a estrutura o do pensamento da crian a, que foi definida por Bruner como o saber-fazer, pois [...] a organiza o de um saber fazer precoce requer inten o, defini o de um objetivo final e indica o m nima de meios . A a o de saber-fazer demonstra que os beb s t m capacidade de investigar e criar hip teses sobre suas a es; t m inten es e a partir delas escolhe informa es e cria esquemas de a es para alcan ar seus objetivos. 12
A partir das aes dos bebs: necess rio pensar e respeitar o tempo da crian a, observando o seu ritmo e dando tempo de espera para que o beb possa atuar e decidir o que ele quer fazer. Como s o importantes e fecundos os espa os ocupados pelos beb s. Quando seguros e no tamanho adequado, podem proporcionar a explora o e o surgimento das rela es com os outros, consigo e com o mundo. Este um momento do qual envolvem emo es, aprendizagens e descobertas H distintas possibilidades que os materiais oferecem s crian as, pois a diversifica o deles provocam explora es para aprender, por meio de variedade de texturas, formas, cores, sons, cheiros e tamanhos, trazendo ricas experi ncias e ampliando o repert rio de conhecimento de outros materiais que n o somente os industrializados. A organiza o do grupo interfere no trabalho pedag gico. A interven o do adulto deve ser feita no sentido de garantir o bem-estar da crian a. 13
Novas Abordagens necess rio que o professor tenha alto grau de consci ncia sobre sua pr tica pedag gica. Refletir como far a interven o, podendo gerar espa o de transforma o para as crian as e para os adultos. Para o adulto parece ser mais interessante criar condi es adequadas para que as crian as atuem em alguma atividade do que pautar-se no planejamento delas. O planejamento deve ser voltado a outros elementos, que neste estudo foram organizados em: o tempo, os espa os, os materiais, a organiza o do grupo e o tipo de interven o. 14
Educao infantil, igualdade racial e diversidade: aspectos pol ticos, jur dicos, conceituais. 15
Biografia da organizadora Maria Aparecida Silva Bento a organizadora do livro. Graduada em Psicologia, tem mestrado em Psicologia Social (PUC-SP) e Doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento (USP- SP). diretora executiva do Centro de Estudo das Rela es de Trabalho e Desigualdades, em S o Paulo. 16
A criana pequena e o direito a creche no contexto dos debates sobre inf ncia e rela es raciais Coloca os beb s como categoria social discriminada e revela lacunas no conhecimento que precisam ser superadas. H uma esp cie de cis o entre as trajet rias da creche (de 0 a 3 anos) e as da pr -escola para crian as maiores. Nota-se tamb m nesse cen rio a presen a maci a de mulheres como educadoras, sobretudo para crian as com idades menores, que recebem sal rios menores pautados na ideia de voca o e matern ncia. Isso culminou em uma educa o infantil pautada em modelos n o formais, com professoras sem forma o espec fica, ditas leigas, com baixos sal rios, sobretudo nas creches estaduais que atendem crian as pobres e negras. 17
A criana pequena e o direito a creche no contexto dos debates sobre inf ncia e rela es raciais As desigualdades no acesso a educa o conforme o n vel socioecon mico, a ra a, a regi o e o local de moradia da pessoa e particularmente gritante com respeito a idade. Devido ao racismo constitutivo da sociedade brasileira, h uma desigualdade entre brancos e negros no acesso a bens materiais e simb licos. O acesso a educa o infantil de qualidade ainda e restrito a pessoas brancas e de maior renda. O processo hist rico da expans o da educa o infantil no Brasil teve contribui o nesse sentido, visto que surgiu como estrate gia ao combate a pobreza, associada a renda domiciliar per-capta em locais perife ricos. 18
As relaes etnico-raciais e a sociologia da infncia no Brasil: alguns aportes Ressalta-se a import ncia de considerar as diferen as, as rela es raciais e de classe no debate sobre a crian a e a inf ncia a partir delas mesmas, caminhando pelos temas da diversidade e da alteridade. Olhar a inf ncia a partir daquilo que as diferencia desde o in cio: g nero/sexualidade, etnia, ra a, classe social. Saindo de uma vis o sobre a crian a e indo para uma vis o que olha uma crian a negra e todas as suas categorias minorit rias envolvidas, como ra a, g nero e classe social. 19
As relaes etnico-raciais e a sociologia da infncia no Brasil: alguns aportes Pesquisas mostram que crian as negras na escola apresentam frequentes quest es de relacionamentos com colegas e professores em virtude de sua cor, gerando situa es nocivas e de conflito para aqueles que se veem rejeitados, bem como um processo de socializa o distinto das crian as brancas. Exemplos: crian as pequenas negras ficam menos tempo no colo de professores se comparado s brancas; algumas crian as negras apresentam o desejo de serem brancas e terem cabelo liso assim como os das hist rias infantis... 20
Anotaes conceituais e jurdicas sobre educao infantil, diversidade e igualdade racial Apesar do ordenamento jur dico assegurar que as crian as devem estar a salvo de qualquer forma de preconceito discrimina o, frequentemente a crian a, desde a tenra idade, e exposta a representa es estereotipadas do negro (por meio da linguagem, da educa o, dos meios de comunica o) que podem culminar em emo es e infer ncias err neas dando ensejo a preconceitos e conclus es incompat veis com o ide rio igualit rio que o sistema jur dico atribui a educa o escolar. 21
Anotaes conceituais e jurdicas sobre educao infantil, diversidade e igualdade racial importante n o adotar uma posi o meramente reativa a discrimina o e ao preconceito, mas sim uma atitude preventiva que foca no que a pr pria Constitui o Federal e o ECA prescrevem: a crian a deve ser colocada a salvo de toda neglig ncia, discrimina o, crueldade e opress o. 22
Os primeiros anos so para sempre Enfatiza-se a import ncia dos primeiros anos da inf ncia na forma o intelectual, afetiva e social do ser humano, de modo que proporcionar o melhor atendimento a elas nessa fase e fundamental, por meio de espa os educativos de qualidade, forma o continuada dos profissionais e o entendimento da crian a como ser atuante. Nota-se que crian as das classes me dia e alta costumam frequentar redes privadas de educa o infantil, e as de baixa renda, as pre -escolas mantidas pelo poder p blico, onde h frequente falta de recursos, implicando em dificuldades como espa o f sico, brinquedos e material did tico inadequados, bem como aus ncia de propostas educacionais que apostem na pot ncia da crian a. 23
Os primeiros anos so para sempre Espera-se que haja um profissional bem preparado e afeito a intera o com as crian as. As atitudes como o tom de voz, o jeito de tocar, de cuidar das necessidades de um beb , como a fome, o frio, o desconforto postural, a higieniza o, possibilita a constru o da no o de previsibilidade sobre seu entorno, e resulta em seguran a ps quica e saud vel integra o ao meio. 24
Os primeiros anos so para sempre Conclui-se que e de grande import ncia o entendimento da natureza singular de cada crian a, de suas quest es e da realidade vivida. O caminho deve partir do que a crian a j sabe aliado a novos conhecimentos, contando com um professor que construa saberes sobre as especificidades dos objetos do ensino e sobre as condi es did ticas necess rias para que as crian as possam se apropriar desses objetos. Assim, a qualidade na educa o infantil envolve: acreditar na crian a, conhecer como ela pensa, propor desafios que a fa a avan ar, apresentar objetos culturais e propor a constru o de compet ncias did ticas nesse sentido. 25
A identidade racial em crianas pequenas Estudos sobre identidade racial na educa o infantil trazem algumas afirma es importantes: desde muito cedo elementos da identidade racial emergem na vida das crian as; entre 3 e 5 anos a crian a ja percebe a diferen a racial e, ao notar, interpreta e hierarquiza a partir de suas impress es; crian as pequenas brancas se revelam confort veis em serem brancas e raramente revelam o desejo de ter outra cor de pele ou de cabelo; crian as com frequ ncia falam que branco e bonito e preto e feio (apontando bonecas, personagens, colegas, professoras). 26
A identidade racial em crianas pequenas Crian as pequenas negras se mostram desconfort veis em sua condi o de negras, pore m raramente reagem a coloca o de que preto e feio e quando pedem ajuda aos professores por muitas vezes eles n o sabem como reagir e se silenciam; tais no es partem da fam lia, da rua, das organiza es religiosas, das creches e das escolas, comumente caracterizando que ser branco e uma vantagem e ser preto uma desvantagem. 27
A identidade racial em crianas pequenas Al m disso, os estudos indicam que para que uma crian a possa ser constru da positivamente importante que ela seja amada pelos seus cuidadores adultos, em geral, por sua m e, em suas experi ncias mais precoces, agindo diretamente em fatores fundamentais para sua forma o de personalidade, de imagem de corpo, de identidade, dados a partir dos est mulos f sicos e sociais. Nesse sentido poss vel entender como o oposto tamb m pode ser concebido, diante de experi ncias discriminat rias. 28
A identidade racial em crianas pequenas Por fim, importante ressaltar que os professores devem buscar criar ambientes de aux lio emocional para que as crian as possam produzir identifica es positivas. Instrumentos como atividades em grupo, excurs es, visitas, filmes e literatura podem oferecer contato com o outro e com o tema. Assim, deve-se buscar um ambiente que acolha as crian as em suas diferen as fenot picas e culturais, a fim de assegurar um sentimento de bem-estar para todas. 29
Diversidade etnico-racial: por uma pratica pedagogica na educa a o infantil Observa-se relatos de crian as negras na educa o infantil com um entendimento que ser branco seria uma solu o ao sofrimento e a discrimina o sofrida. Pesquisas mostram um desejo de crian as pre -escolares negras que gostariam de ter caracter sticas diferentes, geralmente associado a motivos de sofrimento e vergonha, revelando assim como a internaliza o do preconceito em rela o ao negro e uma suposta superioridade do branco j e presente e pautada a partir de atitudes discriminat rias vividas socialmente, na escola, nas ruas e pela m dia que contribui com esse aprendizado quando mostra, na maioria das vezes, apenas crian as e adultos com cor de pele branca, olhos azuis e cabelos lisos. 30
Diversidade etnico-racial: por uma pratica pedagogica na educa a o infantil Cabe a educa o infantil contribuir educando as crian as para o respeito a si e ao outro; e seu papel: ampliar o conhecimento cultural, cient fico e tecnol gico, propiciando conhecimento e respeito a diversidade e tnico-racial. 31
A abordagem da tematica etnico-racial na educaao infantil: o que nos revela a pra tica pedago gica de uma professora Estudos diferen as/diversidades era vista como assunto de menor import ncia, pois as crian as pequenas n o perceberiam tais diferen as e, portanto, n o haveria discrimina es. Contudo, n o era o que um desses estudos mostrava, constatando que algumas crian as brancas apresentavam um sentimento de superioridade em rela o a s crian as negras e estas apresentavam uma vis o negativa em rela o ao grupo e tnico a qual elas mesmas pertenciam. O estudo tambe m evidenciou que a aus ncia da tem tica racial nos curr culos e projetos pedag gicos refor am o racismo e compromete a autoestima das crian as negras. evidenciaram que a abordagem das 32
A abordagem da tematica etnico-racial na educaao infantil: o que nos revela a pra tica pedago gica de uma professora Acredita-se que a educa o pode exercer uma a o importante na preven o do racismo, contudo e fundamental que as pr ticas e os discursos sejam potencializados nesse sentido. Isso dever ser alcan ado pela forma o espec fica dos professores emergindo suas representa es dentro do contexto educacional e ponderando sobre as mesmas, inclusive se reproduzem o racismo, e quais pr ticas e reflex es podem ser adotadas em oposi o a isso. 33
Projetos Pedaggicos na Educa o Infantil Maria Carmen Silveira Barbosa Maria das Gra as Souza Horn 34
Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1983), especialista em Alfabetiza o em Classes Populares pelo GEEMPA (1984) e em Problemas no Desenvolvimento Infantil pelo Centro Lidia Coriat (1995), mestre em Planejamento em Educa o pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1987), Doutora em Educa o pela Universidade Estadual de Campinas (2000) e P s-doutora pela Universitat de Vic, Catalunya, Espanha (2013). Atualmente e Professora Titular na Faculdade de Educa o da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atua como Professora Permanente no Programa de P s-Gradua o em Educa o, 35
Possui graduao em Licenciatura Plena Em Pedagogia Habilita o Superv pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul(1977), especializa o em Especializa o Em Educa o Pre Escolar pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul(1982), mestrado em Educa o pela Pontif cia Universidade Cat lica do Rio Grande do Sul(1991), doutorado em Educa o pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul(2003), 36
Projetos na educacao infantil John Dewey e seu seguidor William Kilpatrick s o apontados como os principais representantes da pedagogia de projetos. Nesse contexto, a sala de aula funcionaria como uma comunidade em miniatura, preparando seus participantes para a vida adulta. A fun o primordial da escola seria a de auxiliar a crian a a compreender o mundo por meio da pesquisa, do debate e da solu o de problemas, devendo ocorrer uma constante inter- rela o entre as atividades escolares e as necessidades e os interesses das crian as e das comunidades. 37
Nova verso para projetos Deve-se considerar: O contexto s cio hist rico, e n o apenas o ambiente imediato, O conhecimento das caracter sticas dos grupos de alunos envolvidos, A aten o a diversidade e O enfoque em tem ticas contempor neas e pertinentes a das crian as. 38
Pedagogia diferenciada N o h uma nica forma de trabalharmos com projetos, mas v rias, e ainda podem ser criadas muitas outras, na medida em que trabalhar com projetos na universidade, ou na escola de 0 a 3 anos, ou no ensino me dio, exige adapta es e transforma es que, n o ferindo os princ pios b sicos, podem contemplar essa diversidade. O projeto e um plano de trabalho, ordenado e particularizado para seguir uma ideia ou um prop sito, mesmo que vagos. Pode ser esbo ado por meio de diferentes representa es, como c lculos, desenhos, textos, esquemas e esbo os que definam o percurso a ser utilizado para a execu o de uma ideia. 39
Para definio do projeto No mbito pedag gico: A defini o do problema; O planejamento do trabalho; A coleta, a organiza o e o registro das informa es; A avalia o e a comunica o. 40
Projetos S o um dos muitos modos de organizar as pr ticas educativas. Eles indicam uma a o intencional, planejada coletivamente, que tenha alto valor educativo, com uma estrat gia concreta e consciente, visando obten o de determinado alvo. Atrave s dos projetos de trabalho, pretende-se fazer as crian as pensarem em temas importantes do seu ambiente, refletirem sobre a atualidade e considerarem a vida fora da escola. S o elaborados e executados para as crian as aprenderem a estudar, a pesquisar, a procurar informa es, a exercer a cr tica, a duvidar, a argumentar, a opinar, a pensar, a gerir as aprendizagens, a refletir coletivamente e, o mais importante, elaborados e executados com as crian as e n o para as crian as. 41
Currculo na educao infantil Para haver aprendizagem, e preciso organizar um curr culo que seja significativo para as crian as e tambe m para os professores. Um curr culo n o pode ser a repeti o cont nua de conte dos, como uma infindavelmente no mesmo ritmo, no mesmo tom. Os projetos abrem para a possibilidade de aprender os diferentes conhecimentos constru dos humanidade de modo relacional e n o linear, propiciando a s crian as aprender atrave s de m ltiplas linguagens, ao mesmo tempo em que lhes proporcionam a reconstru o do que j foi aprendido. ladainha que se repete na hist ria da 42
Currculo Para redimensionar a concep o de curr culo, uma das quest es fundamentais e passar da ideia de programa escolar, como uma lista intermin vel de conte dos fragmentados, obrigat rios e uniformes em que cada disciplina constitui-se como um amontoado de informa es especializadas que s o servidas nas escolas em pequenas doses, para aquela de programa o, em que o curr culo se constr i atrave s de um percurso educativo orientado, pore m sem ser fechado ou pre - definido em sua integralidade. O curr culo n o pode ser definido previamente, precisando emergir e ser elaborado em a o. 43
Festividades Outro grave problema que afeta a educa o infantil e o do calend rio de festividades. Alguns meses do ano, as crian as ficam continuamente expostas a quilo que poder amos chamar da ind stria das festas. Elas se tornam objetos de pr ticas pedag gicas sem o menor significado, que se repetem todos os anos da sua vida na educa o infantil, como epis dios soltos no ar. Manter tradi es culturais, c vicas e/ou religiosas e algo fundamental para as crian as pequenas e precisa constar no curr culo, mas o importante e a constru o do sentido (real ou imagin rio) dessas pr ticas e n o apenas a comemora o. 44
Surgimento dos projetos A organiza o do trabalho pedag gico por meio de projetos precisa partir de uma situa o, de um problema real, de uma interroga o, de uma preocupa es do grupo. Os projetos prop em uma aproxima o global dos fen menos a partir do problema e n o da interpreta o te rica j sistematizada atrave s das disciplinas. Ao aproximar-se do objeto de investiga o, v rias perguntas podem ser feitas e, para respond -las, ser o necess rias as reas de conhecimento ou as disciplinas. quest o que reflita as 45
Surgimento dos projetos As aprendizagens nos projetos acontecem a partir de situa es concretas, das intera es constru das em um processo cont nuo e din mico. O planejamento e feito concomitantemente com as a es e as atividades que v o sendo constru das durante o caminho . Um projeto e uma abertura para as possibilidades amplas e com uma vasta gama de vari veis, de percursos imprevis veis, criativos, ativos, inteligentes acompanhados de uma grande flexibilidade de organiza o. 46
Tempos e espaos N o trabalhamos projetos de maneira fragmentada, com tempos predeterminados, com atividades planejadas com anteced ncia, queremos reafirmar que, para se trabalhar com a organiza o do ensino em projetos de trabalho, e preciso inseri- lo em uma proposta pedag gica que contemple concep es de ensino e aprendizagem, educa o, modos de organizar o espa o Os projetos podem ter tempos diferentes de dura o. Existem projetos de curto, me dio e longo prazos. O tempo ser definido na a o. importante lembrar que uma mesma turma de alunos pode desenvolver v rios e distintos projetos ao longo do ano, que muitos deles podem ter uma exist ncia concomitante e que nem todos os projetos precisam necessariamente ser desenvolvidos por todos os alunos. 47
Etapas na elaborao de projetos 1. A escolha do tema ou do problema: pode advir das experi ncias anteriores das crian as; 2. Planejamento das tarefas: individuais, de pequenos e de grande grupo e da pr pria distribui o do tempo, dos recursos humanos e materiais que ser o utilizados na execu o do projeto e, do quadro de responsabilidades. Este tambe m pode ser visto como o primeiro momento da avalia o (avalia o diagn stica ou inicial), servindo como par metro para a avalia o final do projeto. 48
Etapas na elaborao de projetos 3. Busca de informa es: O grupo como um todo (crian as e adultos) busca informa es externas em diferentes fontes: conversas ou entrevistas com informantes, passeios ou visitas, observa es, explora o de materiais, experi ncias concretas, pesquisas bibliogr ficas, nos laborat rios, na sala de dramatiza o, na sala de multim dia, na sala de esportes ou em diferentes cantos ou ateli s na sala de aula ajudam a criar um ambiente de pesquisa. 4. Sistematiza o e registro: deve-se escolher o que deve ser registrado. Essa documenta o pode ser constitu da por desenhos realizados pelas crian as, textos coletivos organizados pela professora e pelo grupo, montagem de paine is com as descobertas mais interessantes sobre a tem tica, fotos, enfim, registros gr ficos e pl sticos que os alunos v o realizando ao longo do processo. 49
Etapas na elaborao de projetos Documenta o e avalia o: Os materiais produzidos formam a mem ria pedag gica do trabalho e representam uma fonte de consultas para as demais crian as. E importante que o educador procure utilizar diferentes linguagens que organizem as informa es com variedade de enfoques. Depois de o material estar organizado, as crian as podem exp -lo recontando atrav s de diferentes linguagens. A avalia o do trabalho desenvolvido feita a partir do reencontro com a situa o-problema levantada inicialmente, tendo por base os coment rios e as descobertas feitas sobre o que foi proposto e o que foi realizado. 50