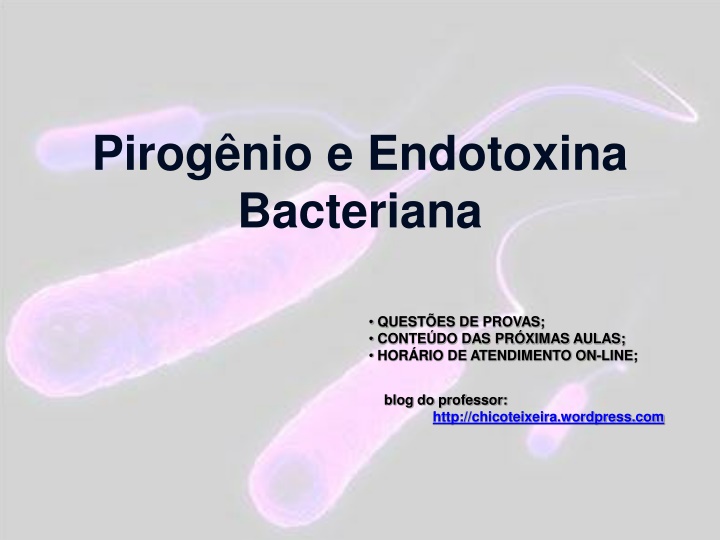
Pirognio e Endotoxina Bacteriana: Estudo Histórico e Atual
Explore a história e os conceitos relacionados ao pirognio e à endotoxina bacteriana, incluindo sua relação com a febre e seu impacto terapêutico. Aprofunde-se nos estudos de personalidades como Billbroth e Centanni, investigando a pirogenicidade de agentes bacterianos. Descubra mais sobre o tema em um contexto acadêmico e científico. Acesse o blog do professor para obter mais informações.
Download Presentation

Please find below an Image/Link to download the presentation.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author. If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.
You are allowed to download the files provided on this website for personal or commercial use, subject to the condition that they are used lawfully. All files are the property of their respective owners.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.
E N D
Presentation Transcript
Pirognio e Endotoxina Bacteriana QUEST ES DE PROVAS; CONTE DO DAS PR XIMAS AULAS; HOR RIO DE ATENDIMENTO ON-LINE; blog do professor: http://chicoteixeira.wordpress.com
Histrico PIROG NIO E FEBRE Febre: mecanismo terap utico ou patofisiol gico
Histrico Inje es intravenosas de material p trido
Histrico VACINAS Salmonella typhi
Histrico Pelletier e Caventou XIX Com o isolamento do antipir tico quinina, estudos em animais permitiram conhecer os efeitos de pirexia e antit rmicos;
Histrico Por m, Billbroth foi o primeiro a usar o termo pyrogen, ou pirog nio, para descrever o princ pio promotor de febre. Ele foi capaz de produzir a febre em cachorros injetando gua destilada nestes animais; Panum O termo pyrogen e subst ncia pirog nica foi ent o usado por outros autores, entre os quais Burdon-Sanderson, que escreveram sobre o processo da febre originada de agente ex geno, como a bact ria, ou de origem end gena da c lula do hospedeiro;
Histrico Durante a ltima d cada do s culo XIX, Centanni conduziu estudos significativos quanto aos agentes respons veis pela febre; Entre outros, ele descreveu um procedimento para isolar a toxina bacteriana respons vel pela a o febril; Mantendo cultura de bact rias Gram (-) sob aut lise durante longos per odos, procedendo a sua filtra o esterilizante e ent o submetendo-as a fracionamento em lcool, ele obteve p branco altamente pirog nico, a partir de larga variedade de bact rias;
Histrico Pseudomonas aeruginosa Salmonella sp.
Histrico Por m, a elimina o de bact rias por esteriliza o t rmica ou filtra o n o eliminava a pirogenicidade destas prepara es; Primeiro entendimento da febre das inje es 1912 em investiga es relatadas por Hort e Penfold;
Histrico Outros pesquisadores confirmaram as informa es e enfatizaram a import ncia de evitar contamina o microbiana em todos os farmac utica; est gios da produ o Versus Esterilidade Pirogenicidade
Histrico Estudo colaborativo Estabelecer um sistema animal que pudesse ser usado para avaliar a pirogenicidade de solu es; USP XII PRIMEIRO TESTE DE PIROG NIO OFICIAL, 1942
Histrico Em paralelo, continuavam os esfor os no sentido de purificar e caracterizar a endotoxina, tendo sido obtidos isolados pirog nicos por diferentes pesquisadores; Shear e Turner isolaram uma prepara o de endotoxina de Serratia marcescens que apresentava tanto toxicidade quanto pirogenicidade e foram os primeiros a aplicar o termo lipopolissacar deo ao extrato de endotoxina;
Histrico 1,0 ng/kg Respostas Febris
Histrico Foram necess rios 20 anos de trabalho desses autores, e outros pesquisadores, para demonstrar que a por o lip dica do LPS respons vel pelas rea es biol gicas induzidas pela endotoxina;
Pirognio endgeno Oakley et al., 2011
Pirognio endgeno interessante a presen a frequente da febre em doen as malignas, o que se pode explicar como uma libera o espont nea de PE por alguns tipos de c lulas tumorais;
Endotoxinas Constituem-se na mais significativa fonte de pirog nio para a ind stria farmac utica, quando n o purificadas podem conter lip deos, carboidratos e prote nas, mas quando purificadas s o denominadas lipopolissacarideos (LPS); Apresentam uma regi o hidrof lica polissacar dea ligada covalentemente a uma regi o hidrof bica, conhecida como lip deo A; A regi o polissacar dea altamente vari vel entre as esp cies de bact rias Gram (-), j o lip deo A uma estrutura bastante conservadora, sendo respons vel pela atividade biol gica;
Atividade Biolgica Muitas atividades biol gicas s o atribu das unidade lip deo A da endotoxina: pirogenicidade, toxicidade letal, leucopenia, seguida de leucocitose, necrose da medula ssea, reabsor o do osso embrion rio, ativa o do complemento, queda de press o sangu nea, agrega o plaquet ria, indu o de resist ncia n o espec fica infec o, atividade de macr fagos, indu o de s ntese de IgG, indu o produ o de interferon, indu o produ o de TNF, gelifica o do lisado do ameb cito de Limulus; O mecanismo de indu o da febre envolve a fagocitose do lip deo A, sendo produzido pirog nio end geno, que ent o atravessa a barreira hematoencef lica e age no hipot lamo;
Atividade Biolgica Diferentemente da maioria dos animais e humanos, os ratos e camundongos apresentam resposta hipot rmica ap s administra o parenteral de endotoxina; Usando o recurso de inje o direta nos ventr culos cerebrais, foi poss vel a promo o da febre, permitindo inferir que o centro termorregulador de ratos capaz de responder ao lip deo A; Demonstrando tamb m que o lip deo A, ou o pirog nio end geno, injetados intravenosamente n o atravessam a barreira hematoencef lica e a hipotermia decorre do efeito t xico do lip deo A sobre os vasos da pele;
Nveis Pirognicos A quest o de n veis pirog nicos torna-se crucial ao considerar os limites de libera o para os produtos farmac uticos; 1980 50 pg/mL (0,5 ng/Kg); Posteriormente 35 pg/mL; Sob evid ncia cient fica, 100 pg/mL um limite de libera o aceit vel para parenterais de grande volume e proporciona um significativo fator de seguran a sobre o teste de pirog nio em coelhos;
Nveis Pirognicos <<<<<<< 10 vezes Esta diferencia o n o implica desm rito no emprego do teste de pirog nio em coelhos, como preditivo do risco pirog nico para humanos;
Nveis Pirognicos Mostrou-se que os n veis-limite em ambas as esp cies ficam entre 0,1 e 0,14 ng/Kg para S. typhosa, 1,0 ng/Kg para E. coli, e de 50 a 70 ng/Kg para Pseudomonas sp; Vale ressaltar que os limites correspondem a prepara es purificadas, enquanto as endotoxinas que ocorrem na natureza como contaminantes de produtos farmac uticos apresentam comportamentos distintos; Assim, a pirogenicidade pode depender de qual a endotoxina estudada, assim como do n vel da dose; 0,1 ng/mL permite um consider vel fator de seguran a quanto pirogenicidade em humanos;
Processos de despirogenizao Inativa o Remo o Endotoxinas A inativa o pode ser obtida pela detoxifica o da mol cula de lipopolissacar deo LPS, usando tratamentos qu micos que quebrem partes l beis ou bloqueiem s tios necess rios atividade pirog nica, como alternativa pode ser usada alta temperatura;
Processos de despirogenizao Inativa o Remo o Endotoxinas A remo o de endotoxinas pode tamb m ocorrer por diferentes m todos, baseada em caracter sticas f sicas da endotoxina, como tamanho, peso molecular, carga eletrost tica, ou afinidade da endotoxina com diferentes superf cies;
Despirogenizao por Inativa o da Endotoxina Hidr lise cido-Base; Oxida o; Alquila o; Processo T rmico; Radia o Ionizante;
Despirogenizao por Remo o de Endotoxinas Lavagem; Destila o; Ultrafiltra o; Osmose Reversa; Carv o Ativo;
Obteno de Produtos Apirog nicos Ap s a observa o dos m todos despirogenizantes, por inativa o ou remo o, ficam evidentes as limita es quanto sua aplica o no produto terminado; Exceto nos m todos cl ssicos de obten o de gua apirog nica, assim como na aplica o de calor seco, em condi es dr sticas, a material termoest vel (material de acondicionamento, por exemplo), os demais m todos s o extremamente espec ficos, ou apenas se justificam em medicamentos ou produtos biol gicos de alt ssimo valor agregado;
Obteno de Produtos Apirog nicos Deve permanecer fortemente sedimentada a import ncia de trabalhar, durante todo o processo produtivo, em condi es adequadas de higiene, relativamente a operadores e ao ambiente, al m de empregar mat rias- primas com baixas cargas microbianas, processos validados, pessoal qualificado e treinado. Em suma aplicar todos os conceitos de Boas Pr ticas de Fabrica o, de forma que o produto seja obtido apirog nico no primeiro processamento, dispensando preocupa es quanto a reprocessos ou tratamentos adicionais;
Obteno de Produtos Apirog nicos Todas as monitora es de processo, assim como testes de mat rias-primas, com particular aten o s de origem natural, e do produto terminado, devem empregar t cnicas anal ticas validadas, seja com a metodologia cl ssica, empregando coelhos, ou diferentes m todos empregando a t cnica in vitro do LAL;
Determinao de Endotoxinas Lisado do ameb cito de Limulus (LAL); Desde 1885 observou-se que o sangue do L. polyphemus, o caranguejo em forma de ferradura de cavalo, formava um co gulo em gel s lido, quando removido do animal; V rios aspectos dessa coagula o foram estudados, com particular refer ncia aos ameb citos, a nica c lula circulante encontrada no sangue do Limulus; Em 1956, Bang verificou que bact rias Gram (-) eram capazes de fazer uma doen a fulminante em caranguejos;
Determinao de Endotoxinas Lisado do ameb cito de Limulus (LAL); Esta doen a era caracterizada por extensiva coagula o intravascular, e consequente morte; Em 1964, Levin e Bang apresentaram estudos sobre este mecanismo de rea o, demonstrando que os ameb citos eram necess rios para a rea o e que os agentes de coagula o est o somente nos ameb citos; Assim, descreveram o fen meno que mais tarde seria a base para o ensaio LAL;
