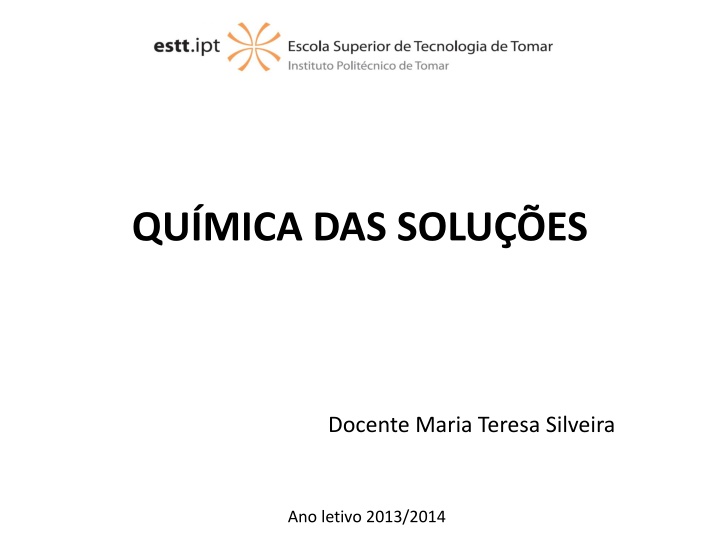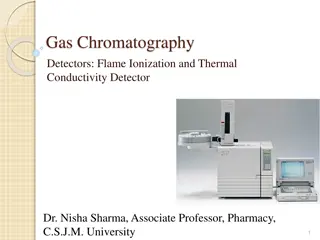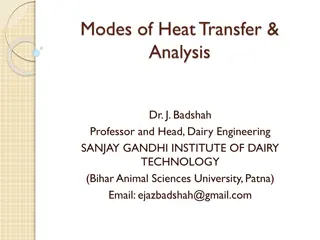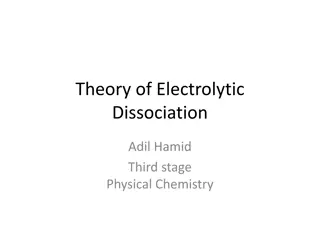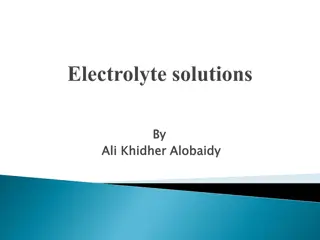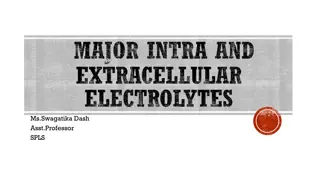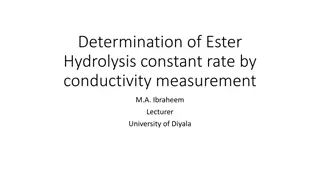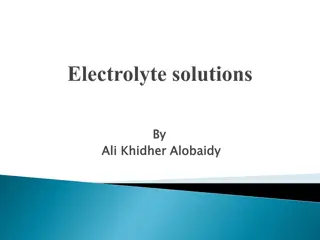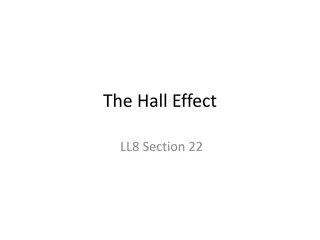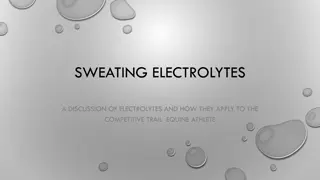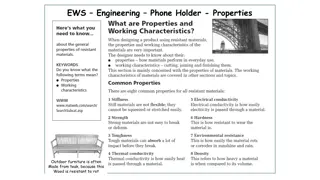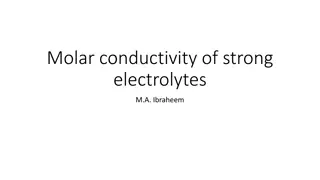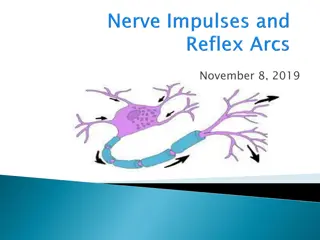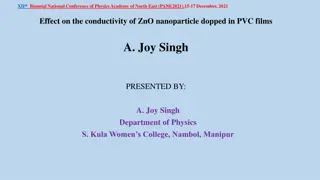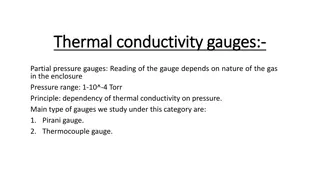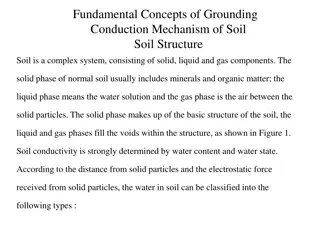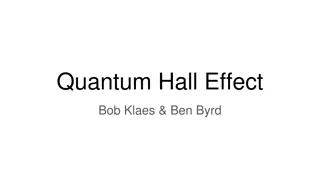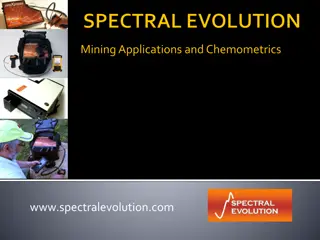Electrolytes and Conductivity in Solutions
Electrolytes play a crucial role in conducting electricity in solutions. This content delves into the behavior of ions in solution, ion dissociation in strong and weak electrolytes, and factors affecting conductivity. Concepts such as condutividade molar and the role of water as a solvent are explored, shedding light on how electrolytes facilitate the flow of electric current. The text also discusses the relationship between ion dissociation, resistance, and electrical conductivity, providing insights into the fundamentals of electrochemistry.
Download Presentation

Please find below an Image/Link to download the presentation.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.
You are allowed to download the files provided on this website for personal or commercial use, subject to the condition that they are used lawfully. All files are the property of their respective owners.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.
E N D
Presentation Transcript
QUMICA DAS SOLUES Docente Maria Teresa Silveira Ano letivo 2013/2014
Cap. 1 - Condutimetria 1.1. Eletr litos Dissolu o do cloreto de s dio em gua Os cristais de cloreto de s dio s o constitu dos por i es Na+ e Cl-. Quando um destes cristais imerso em gua, as mol culas deste solvente orientam-se com o tomo de oxig nio dirigido para os i es Na+ e com os 2 tomos de hidrog nio dirigidos para os i es Cl- sendo estas orienta es devidas ao sentido do momento dipolar da mol cula de H2O. 2
Se a energia de interao entre os dipolos da gua e os ies do cristal for suficiente para vencer a energia de atra o entre este, ocorrer a dissolu o. 3
A fora eletrosttica que se exerce entre os ies em soluo torna-se muito menor pois sendo dada pela lei de Coulomb 1 ' qq = f 2 4 r verifica-se que inversamente proporcional permeabilidade el trica do meio, (inversamente proporcional constante diel trica do meio). No caso da gua, a constante diel trica tem um valor elevado (78,3 a 25 C) pelo que a for a que se exerce entre os i es reduzida e haver tend ncia para se reconstituir o cristal inicial, ou outros agregados i nicos. H casos em que a dissolu o acompanhada por uma dissocia o de mol culas (HAc em gua). 4
Ies existentes em soluo podem transportar corrente el trica e duma maneira ELECTR LITOS, os l quidos que s o condutores da corrente el trica por meio deste mecanismo de transporte de i es. geral, designam-se por Classicamente dividiam-se os eletr litos em FORTES e FRACOS consoante as solu es conduziam melhor ou pior a corrente el trica. A condutibilidade destas solu es foi explicada por Arrehenius (1933), que postulou existirem nos eletr litos um certo n mero de mol culas de soluto dissociadas nos seus i es constituintes, com cargas positivas e negativas em n mero igual de modo a manter a electroneutralidade da solu o, sendo estas part culas respons veis pela condu o da corrente el trica. 5
VantHoff introduziu o fator i para eletrlitos fortes aproximadamente igual ao n mero de i es em que a mol cula se dissocia. Ex: NaCl, KCl i = 2; BaCl2, K2SO4 i = 3 1.2. Condutividade e condutividade molar Os eletr litos obedecem lei de Ohm V i = R em que i - intensidade de corrente que atravessa o condutor; V - diferen a de potencial aplicada; R - resist ncia do condutor. 6
Sendo l o comprimento do condutor e S a rea da sua seco tem-se: R = l S - resistividade do material que constitui o condutor e numericamente igual a R de um condutor com 1 m de comprimento e uma rea de sec o de 1 m2. Chama-se condutividade ao inverso da resistividade, condut ncia ao inverso da resist ncia e 1 = k -1 m-1 A condutividade molar ( ) duma solu o dada por: k = c concentra o c expressa por n mero de moles por m3; vem em -1 m2 mol-1. 7
Tambm pode aparecer k = ( -1 cm2 mol-1) 1000 c em que k vem em -1 m-1; c em mol l-1; 1000 - fator de convers o de unidades para que venha expresso em -1 cm2 mol-1. A condutividade equivalente k = ( -1 cm2 eqg-1) 1000 eq c em que c expressa em equivalentegrama por litro. 8
1.3. Medio de condutividades As medi es n o podem ser feitas com corrente cont nua devido aos efeitos de polariza o de el trodos e eletr lise. Podem usar-se pontes de Wheatstone com corrente alternada. 9
Estudando a diviso de correntes neste circuito, concluir-se-ia que as diferen as de potencial entre A e C (VAC) e A e D (VAD) seriam R R + = AC + V V = z V V AC AB R R AD AB R R AC BC x s e no caso de VAC=VAD ter-se- R R R = AC R s x BC Nessas condi es n o haver passagem de corrente no circuito detetor que para aumento de sensibilidade est dotado de um sistema amplificador. 10
Como detetores so usados tubos de raios catdicos que permitem detetar facilmente o ponto em que n o h passagem de corrente. As c lulas de medida de condutividades t m el trodos de platina platinizada o que aumenta a superf cie efetiva e a capacidade. Ponte condutividade est relacionada com a resist ncia por: de Wheatstone mede resist ncias e a 1 l = k R S l/S - constante para determinada c lula e determina-se usando uma solu o de condutividade bem conhecida (solu es de KCl) obtendo-se o valor da constante da c lula. Conhecida a constante da c lula podem determinar-se condutividades medindo a resist ncia das solu es. 11
1.4. Variao da condutividade com a concentrao V S Segundo a lei de Ohm = = i Vk R l i= V ou seja, k S l Sendo, i= j S A densidade de corrente, j (A m-2), a quantidade de eletricidade que passa no condutor por unidade de tempo e unidade de rea de sec o. Se o campo el trico, E, tem valor constante, V E = l vem j = kE 12
Para um condutor eletroltico condutncia devida soma das contribui es das v rias esp cies i nicas presentes (B +z+A - z-). Fluxo de i es positivos J+= c+v+ onde v+ - velocidade a que se deslocam os i es positivos. A densidade de corrente dada por j+ = z+ F J+ = z+ F c+ v+ sendo z+ F - carga el trica transportada por uma mole de i es positivos; F - constante de Faraday (96487 Coulombs mole-1). O mesmo para os i es negativos j- = z- F J- = z- F c- v- 13
Densidade de corrente: j = j+ + j- = c F ( + z+ v+ + - z- v-) sendo v+ = l+ E e v- = l- E onde l a mobilidade i nica c+ = c z+ e c- = c z- j = c F E ( + z+ l+ + - z- l-) Finalmente obt m-se a rela o entre a condutividade e a concentra o k= c F ( + z+ l+ + - z- l-) Condutividade deve ser diretamente proporcional concentra o 14
Sendo a condutividade molar: = F ( + z+ l+ + - z- l-) Como tem de ser eletricamente neutra, + z+ = - z- = F + z+( l+ + l-) Condutividade molar deveria ser constante. Experimentalmente verificou-se que a condutividade molar decrescia com o aumento da concentra o e essa varia o era diferente para eletr litos fortes e eletr litos fracos. 15
1.4.1. Dissociao parcial do eletrlito Arrhenius: tentou explicar a varia o da condutividade molar com a concentra o devido dissocia o do eletr lito; definiu um grau de dissocia o, , igual ao quociente entre o n mero de moles dissociadas, N , e o n mero total de moles dissociadas, N, num dado solvente. Isto , N' = N sendo evidentemente, 0 1. 17
As molculas no dissociadas no contribuem para a condu o da corrente el trica pelo que no caso da dissocia o ser incompleta a condutividade ser dada por k= c F ( + z+ l+ + - z- l-) e a condutividade molar ser = F ( + z+ l+ + - z- l-) 18
Considerando a dissociao de um eletrlito fraco por exemplo: cido fraco HA HA H+ + A- 1- c(1- ) Dissocia-se : Para a concentra o C c c No equil brio: 1 ( c ) 2 ( )( ) c c c = = kd 1 sendo kd uma constante de equil brio (constante de dissocia o do eletr lito), facilmente se verifica que medida que c 0 (dilui o infinita), 1 (dissocia o total). 19
Quando a concentrao tende para zero a condutividade molar tende para um valor m ximo - condutividade molar a dilui o infinita, 0. Se a dissocia o parcial fosse a nica causa da varia o da condutividade molar ter amos: = c c - condutividade molar da solu o de concentra o c. 0 Ostwald combinou a lei da a o das massas e a express o de Arrhenius tendo obtido: 2 c c = k d ( ) c 0 0 20
Esta a Lei de diluio de Ostwald que obedecida pelos eletr litos fracos, em solu es dilu das ( 0,1M). Para concentra es superiores surgem discrep ncias. A utilidade da express o o c lculo da constante de dissocia o de eletr litos fracos. A teoria de Arrhenius que admitia a dissocia o parcial espont nea estava perfeitamente assente para eletr litos fracos. Para os eletr litos fortes, para os quais o grau de dissocia o deve ser bastante elevado, aparecem anomalias. Os valores do grau de dissocia o calculados pela raz o das condutividades e os calculados prelo fator i de Vant Hoff n o eram concordantes entre si e as constantes de dissocia o calculadas n o eram constantes. 21
Tentativa dissocia o do HCl em gua. (T=298 K e 0 =426,2 -1 cm2 mol-1) de c lculo das constantes de 22
Clculo das constantes de dissociao do CH3COOH em gua. (T=298 K e 0 =387,9 -1 cm2 mol-1) 23
Existem disparidades entre os valores calculados para kd mesmo em solu es dilu das. Este considerado anomalia dos eletr litos fortes. comportamento dos eletr litos fortes foi No caso dos eletr litos fracos, se bem que os valores sejam pr ximos (constantes) pode notar-se uma tend ncia para a diminui o de kd com a concentra o. A conclus o a tirar que as ideias de Arrhenius explicam apenas uma parte do problema. 24
O estudo dos espectros de absoro das solues de eletrlitos fortes n o revelaram a presen a de mol culas n o dissociadas e a estrutura dos sais cristalinos verificou-se ser i nica. Os eletr litos fortes deveriam estar totalmente dissociados em todas as concentra es e os eletr litos fracos s atingiam esse estado em dilui es extremas. Sendo assim, n o faz sentido definir um grau de dissocia o para os eletr litos fortes e muito menos aplicar a lei da a o das massas. H pois que explicar porque diminui a condutividade molar, , medida que aumenta a concentra o, o que n o pode ser explicado pela varia o de . Tendo em conta as equa es anteriores conclu mos que a mobilidade dos i es deve ser vari vel com a concentra o. 25
1.4.2. Interaes inicas Van Laar (1902) chamou a aten o para tensas a es eletrost ticas que se fariam sentir nas solu es de eletr litos. Os i es t m raios da ordem de grandeza de 10-10 m (1 ); =80; d= 9x10-10m ent o, E vem, 9 19 1 9 10 6 . 1 10 q 1 = = = 6 18 10 E Vm 2 9 4 80 10 ( ) r As a es eletrost ticas que se exercem entre os i es devem- se atribuir s anomalias verificadas para os eletr litos fortes. 26
Segundo Debye e Huckel as atraes e repulses interi nicas levam forma o de uma atmosfera em torno de cada i o de um dado sinal. A exist ncia desta atmosfera pode provocar a diminui o da mobilidade dos i es com o aumento da concentra o em virtude de dois efeitos: efeito eletrofor tico e efeito de relaxa o. a) efeito eletrofor tico Quando se aplica um potencial, V, a dois el trodos mergulhados numa solu o de um eletr lito, cada i o tende a mover-se com uma certa velocidade, v, e a condut ncia da solu o ser fun o da concentra o, grau de ioniza o do eletr lito, cargas e mobilidades dos i es. 27
Porm, a atmosfera de cada io move-se em sentido contr rio e como os i es est o solvatados, haver um movimento da camadas de solvente em sentidos contr rios e por isso, uma diminui o da mobilidade dos i es por atrito no respetivo deslocamento. b) efeito de relaxa o A atmosfera de um dado i o tem simetria esf rica que desfeita quando o i o se move por a o de um campo aplicado. D -se uma moment nea concentra o de cargas de um dado sinal no sentido oposto ao do movimento do i o de sinal contr rio. Esta concentra o de cargas atua como um freio eletrost tico ao movimento dos i es que permanece atuante enquanto n o se restabelece a atmosfera sim trica inicial por a o da agita o t rmica. 28
O tempo necessrio para reconstruir a nova atmosfera o tempode relaxa o que influi na mobilidade dos i es do eletr lito. Estes efeitos (eletrofor tico e de relaxa o) permitiram justificar teoricamente a lei emp rica de Kohlrausch que afirmava ser linear a rela o entre e C1/2 em solu es dilu das (at 0.01M) de eletr litos fortes: = k c 0 A extrapola o para c = 0 d 0 condutividade molar a dilui o infinita. 29
Onsager deduziu para eletrlitos uni-univalentes: c B A 0 0 ' ' + = Lei limite de Onsager A e B s o par metros que dependem das condi es experimentais (viscosidade, constante diel trica, temperatura) c c Ba + 1 + ' ' A B = 0 para c 0.1M 0 A lei de Onsager aplic vel a eletr litos fracos desde que C seja substitu do por C. Para solu es mais concentradas necess rio considerar outros efeitos: forma o de associa es i nicas e influ ncia das elevadas concentra es de soluto nas propriedades da solu o (viscosidade e constante diel trica). 30
1.4.3. Formao de associaes inicas Devido s intera es eletrost ticas, i es de cargas opostas tendem a formar agregados que ter o comportamento diferente do comportamento dos i es independentes no que respeita condutividade do eletr lito. Considerando o equil brio de dissocia o do par i nico MA MA M+ + A- A que corresponde uma constante de dissocia o: ( )( ) + M A = k ( ) MA e poder-se-ia aplicar a lei de Onsager modificada aos eletr litos fracos mas em que representaria o grau de dissocia o do par i nico. 31
1.5. Condutividades molares a diluio infinita Lei das condutividades i nicas independentes No caso de solu es de eletr litos fortes a condutividade a dilui o infinita pode determinar-se extrapola o. Representando graficamente = f( c) obt m-se para concentra es baixas uma rela o linear (lei limite de Onsager) o que torna f cil a extrapola o. facilmente por Para eletr litos fracos a varia o de com c n o linear e os erros devidos condutividade do solvente s o maiores na zona de concentra es baixas (onde se faz a extrapola o). 32
Para eletrlitos fracos possvel determinar a condutividade molar tendo em conta a lei de Ostwald que pode ter a forma 1 = 2 0 c K k 0 c d d c representando c c = f (1/ c) obt m-se uma reta cujo declive kd 02 e cuja ordenada na origem kd 0. A partir dos valores das condutividades de solu es de eletr lito fraco com diferentes concentra es poss vel determinar os valores de kd e 0. Outro m todo para determinar 0 de eletr litos fracos consiste em calcul -los com base na lei das condutividades i nicas independentes de Kohlrausch. 33
Tendo em conta bastantes resultados experimentais Kohlrausch concluiu que, em solu es dilu das, cada i o contribui para a condut ncia do eletr lito independentemente dos outros. + + ( ) zB z A Considerando o eletr lito ( ) + = + z z A B + 0 0 0 em que 0(Az+) e 0(Bz-) s o as condutividades i nicas e que d o uma medida da contribui o que cada i o d para 0. 34
Verifica-se que os valores das condutividades inicas so da mesma ordem de grandeza exceto nos casos de H+ e OH- que se pode explicar por um mecanismo de transfer ncia de prot es. Que mostra que pode haver migra o de carga el trica sem haver desloca o efetiva de i es. Para outros casos, as dimens es dos i es (solvatados) podem ajudar a compreender os valores relativos das condutividades i nicas que ser o tanto maiores quanto mais pequeno o i o. 35
1.6. Aplicaes Condu o de corrente el trica uma propriedade comum a todos os i es em solu o pelo que a medida da condutividade pode dar ideia da concentra o total desses i es. Exemplos de ordem de grandeza de condutividade ( -1m-1): gua ultra pura 10-6 gua destilada 10-5 gua de consumo 10-4 Solu o de NaCl 0,05% 10-3 a 10-2 gua do mar 101 cido sulf rico a 30% 102 36
As medidas de condutividade podem ser usadas para seguir o decurso de uma titula o (titula es condutim tricas) desde que haja uma diferen a significativa entre as condutividades dos reagentes e dos produtos da rea o. As elevadas condutividades i nicas de H+ e OH- tornam o m todo condutim trico adequado para titula es de cidos e bases. Tamb m pode ser aplic vel a rea es de precipita o ou de forma o de complexos neutros. Podem tamb m utilizar-se para rea es relativamente incompletas pois a zona na vizinhan a do ponto de equival ncia n o tem import ncia neste m todo. 37
1.7. Atividades. Coeficientes de atividade Existem for as interi nicas que causam desvios em rela o ao comportamento ideal dos i es. Na lei da a o das massas aplicada aos equil brios qu micos as massasativas dos i es podem n o ser identific veis com as suas concentra es corre o das concentra es de modo a torn -las massasativas . Lewis prop s um fator f , coeficiente de atividade , que multiplica as concentra es de forma a obter a atividade . ai = fi ci 38
Como as solues ideias se podem considerar casos limites das solu es reais quando a dilui o se torna infinita, o coeficiente de atividade tender para 1 quando c 0 isto : = lim ic 1 i f 0 logo = lim a i ci 0 ic Os valores das concentra es conhecem-se ou podem ser determinados por m todos anal ticos, ent o necess rio saber determinar os coeficientes de atividade. Admite-se que os eletr litos est o completamente dissociados e dada a impossibilidade f sica de se conseguir uma solu o s com cati es ou s com ani es imposs vel determinar os coeficientes de atividade individuais. 39
Para um eletrlito AnBm, o coeficiente de atividade mdio definido por: ( f f + ) 1 1 ( ) = + log log log f n f m f e = nf m + m n + + m n Lei limite de Debye-H ckel = log f A z z I i j em que I - for ai nica da solu o uma medida da concentra o de cargas da solu o i 2 1 = 2 I c iz i Zji - cargas dos i es constituintes do eletr lito A - fator dependente da constante diel trica e da temperatura, a 25 C = 0,509 40
Entrando com um novo parmetro, a, distncia de aproxima o m xima entre i es: A z z I i j = log f + 1 aB I em que B a 25 C = 0,33 e a exprime-se em angstrons. A express o s pode ser utilizada para valores de 1 at 0,1. Guntlebeeg prop s A z z I i j = log f + 1 I Guggenheim introduziu um termo linear em rela o concentra o z z A f + 1 I i j = + log bI I 41
Davies props um valor nico para b A z z I i j = 3 , 0 log f I + 1 I + + + A B A B Considerando o equil brio estabelece-se a respetiva constante de equil brio: 2 ( A ) + + A B A B = = k A ( )( ) + + B f B Mol culas n o ionizadas e gases press o de 1 atm consideram-se como tendo coeficientes de atividade unit rios; subst ncias s lidas e solventes consideram-se com atividade unit ria. (solu es dilu das) 42